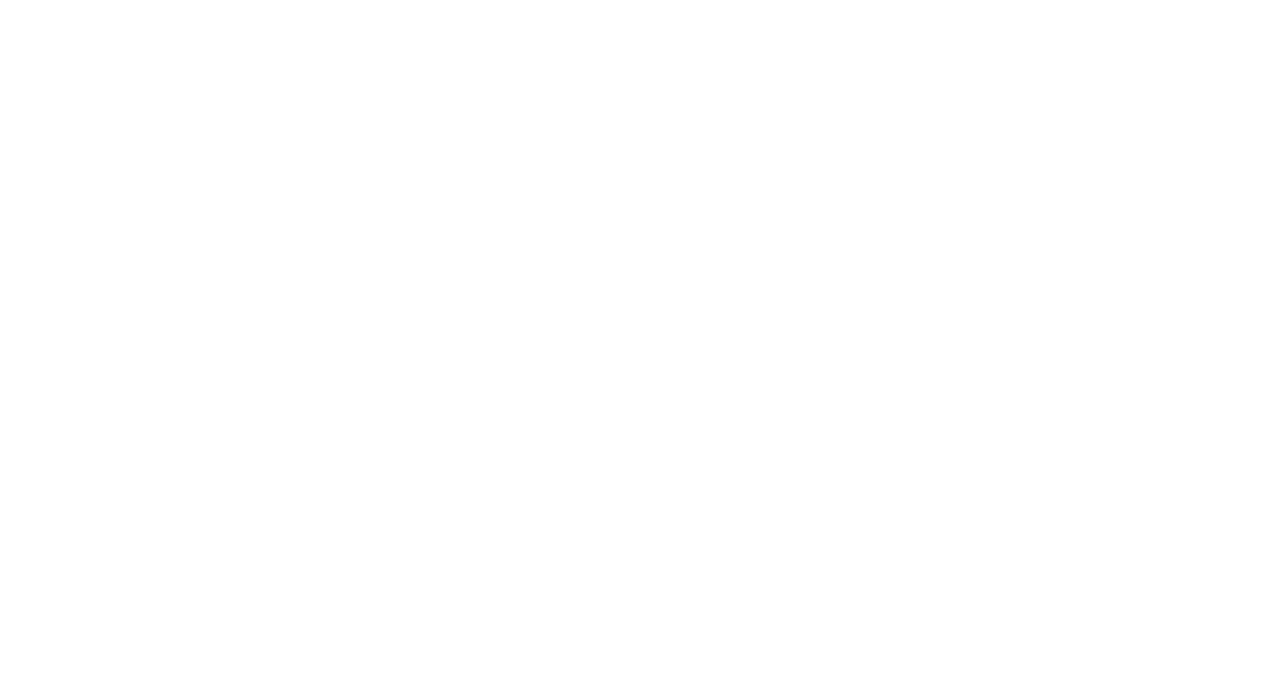Entrevista com Juliana de Paula Costa, cocriadora e coordenadora do projeto em educação antirracista Pisar Nesse Chão Devagarinho
Rodrigo Ratier


A íntegra da conversa está disponível como podcast. Acesse!
A educação antirracista é um assunto que finalmente entrou na pauta. Promover o acesso de alunos e alunas negros e indígenas é o primeiro passo, mas o trabalho sustentável no tempo vai além da ideia de colorir o espaço ou de aliviar a culpa por uma escola sem diversidade racial. Inclui pensar em contratações para o corpo docente e preparar a formação dos professores. Significa reestruturar o currículo e contemplar autores negros e indígenas. Diz respeito às condições de manutenção dos novos alunos, e do fomento a uma atitude acolhedora na escola. É estar aberto a críticas e sugestões, é reconhecer o preconceito e a discriminação racial nas relações cotidianas.
O Vera escolheu esse caminho mais complexo – e, por isso, mais difícil. O projeto iniciado em 2021 apresenta resultados animadores – e como não poderia deixar de ser, pontos de revisão e avanço. Situar em que ponto estamos em termos de educação antirracista é o tema central da conversa com Juliana de Paula Costa. “O Vera tem reconhecido o racismo estrutural e a branquitude, que é o sistema criado pelo racismo para manter o poder entre as pessoas brancas, trazendo esses temas para o cerne do seu projeto”, diz a cocriadora e coordenadora do projeto em educação antirracista Pisar Nesse Chão Devagarinho. Juliana é pedagoga com especialização em educação para as relações étnico-raciais e assessora o projeto de educação antirracista do Vera desde o início da iniciativa. Confira a seguir os principais trechos da entrevista.

[ZUM-ZUM] Uma frase recorrente dos últimos tempos é que, na luta contra o racismo, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O que isso significa para uma escola?
[Juliana de Paula Costa] Com racismo, não há democracia. Se a educação tem a democracia como valor, o antirracismo se torna essencial. Um país como o nosso – que vive sob estado de barbárie, que permite o genocídio negro, o genocídio indígena – precisa de uma educação comprometida para a transformação dessa realidade. Não tem uma receita de bolo que possa nos mostrar qual é o caminho exato para uma educação antirracista, mas certamente é preciso que haja um comprometimento contínuo dos indivíduos e das instituições. Na escola, esse valor deve ser transversal, presente em todo o currículo, desde a Educação infantil até o Ensino Médio.
Como tem sido sua atuação no projeto de educação antirracista do Vera Cruz?
Ela se dá mais especificamente na formação de professores. Tenho trabalhado a importância da Lei 10.639 de 2008, que torna obrigatório o ensino afro-brasileiro e africano nas escolas, e da lei 11.645 de 2008, que também inclui as perspectivas indígenas no currículo. Também tenho refletido com os educadores sobre temas basilares para pensar a educação antirracista: o racismo estrutural, as dimensões subjetivas do racismo e seus efeitos psicossociais. A partir daí, discutimos a revisão curricular e a transformação do olhar para compreender as relações raciais nas interações com os estudantes e os colegas. Ou seja, é preciso trabalhar também o currículo oculto, que é aquele que permeia as relações.
Considerando sua experiência com educação antirracista no ambiente escolar, em que estágio a escola e o instituto se encontram?
Há alguns progressos fundamentais na busca por uma práxis antirracista. O Vera tem reconhecido o racismo estrutural e a branquitude, que é o sistema criado pelo racismo para manter o poder entre as pessoas brancas, trazendo esses temas para o cerne do seu projeto. E esse é o primeiro passo para qualquer instituição, ou mesmo qualquer pessoa que queira se comprometer com essa causa tão fundamental. Esse reconhecimento é muito salutar e está sendo colocado em prática.
Quais foram os acertos do primeiro ano do projeto antirracista do Vera?
As equipes com que tenho trabalhado no G5 já contam com um corpo docente interrracial. Isso traz uma grande diferença, pensando que não há como desenvolver uma educação antirracista sem que tenha a presença de pessoas negras, ainda mais pessoas negras em posição de poder. Também noto o engajamento da equipe durante os momentos de formação. Vejo interesse contínuo em seguir se aprofundando e pensar não só em como receber bem as crianças e famílias que ingressam pela política afirmativa, mas também começar a pensar numa permanência de qualidade, que é um dos temas que eu tenho trabalhado muito não só no Vera Cruz, mas também em outras instituições. De nada adianta inserir corpos negros dentro de espaços se não se está preparado para bem garantir a permanência.
O que poderia ser aprimorado?
É possível que esse corpo docente seja ainda mais diverso racialmente, há caminhos para ampliar essa representatividade. Sinto falta de encontrar pares negros e negras que tenham uma visão antirracista em outras posições de poder dentro da escola, como em coordenações e em gestões de área.
Para quais outras experiências virtuosas de educação antirracista o Vera poderia olhar?
Aqui em São Paulo a gente tem a EMEI Nelson Mandela, que é uma escola referência em educação para relações raciais na primeira infância. É importante que uma escola pública com muitos anos de trabalho em educação para as relações étnico-raciais seja reconhecida. Sei que o Vera já estabeleceu diálogos com ela. Outra escola inspiradora é a EM Maria Felipa, em Salvador, que tem currículo antirracista e decolonial. Gosto dessa junção porque o racismo nada mais é que a manutenção do pensamento colonial que coloca o eurocentrismo no centro do conhecimento, no universal. Precisamos trazer outras visões de mundo, outros saberes para a construção do currículo.
Como a educação antirracista deve lidar com eventuais atos de racismo e discriminação na escola?
Devemos lembrar que racismo é crime inafiançável e imprescritível, previsto na Constituição Federal. É importante começar com essa informação para mostrar que o racismo não é algo com o que a gente possa lidar de uma forma leviana. Na escola, exige-se um protocolo específico de mediação de conflito e cuidado. Para Nilma Lino Gomes, uma das maiores referências para a educação antirracista no Brasil, precisamos nomear a gravidade do racismo para crianças e jovens. Mas, muito mais que isso, devemos acreditar na possibilidade de formar e educar para que essas relações entre as etnias possam ser transformadas.
Como isso ocorre na prática?
É necessário intervir prontamente, sempre em primeiro lugar acolhendo adequadamente a vítima e pontuando assertivamente o erro de quem cometeu racismo. Mas é fundamental também um trabalho contínuo com o corpo docente, pensando numa formação adequada para que esses profissionais identifiquem relações de racismo que muitas vezes podem ser veladas e para que possam ter intervenções qualificadas – isso vai variar muito em cada caso. Independentemente da situação, é sempre importante que as famílias, tanto das crianças que podem vir a sofrer uma violência racista, quanto das crianças que as cometeram, sejam convocadas para conversas. É na parceria entre escola e família que essa cultura racista precisa e pode ser transformada.
A escola deve tematizar episódios públicos de forte conotação racial, como os assassinatos de João Alberto Freitas no Carrefour de Porto Alegre e do congolês Moïse Kabagambe no Rio de Janeiro?
São casos brutais, duros e revoltantes. Apesar dessa dor e desse mal estar, a gente precisa lembrar que os jovens, muito mais que as crianças, estão em contato com as informações que circulam na sociedade. Principalmente no Ensino Médio, é impossível não abordar esses episódios. Com intencionalidade e articulação, os educadores podem preparar rodas de conversa e sequências didáticas que ampliem o repertório dos jovens para assimilar notícias tão violentas como essas. Pensando nas crianças menores, não aconselho a abordagem. É preciso sempre considerar a intencionalidade: se a notícia que só assusta e causa choque, o objetivo – que é promover letramento racial, reflexão, amadurecer o entendimento dos temas – não vai ser atingido. Tanto os pequenos quanto os mais velhos precisam dessa mediação qualificada do educador. A violência por si só não ensina nada.