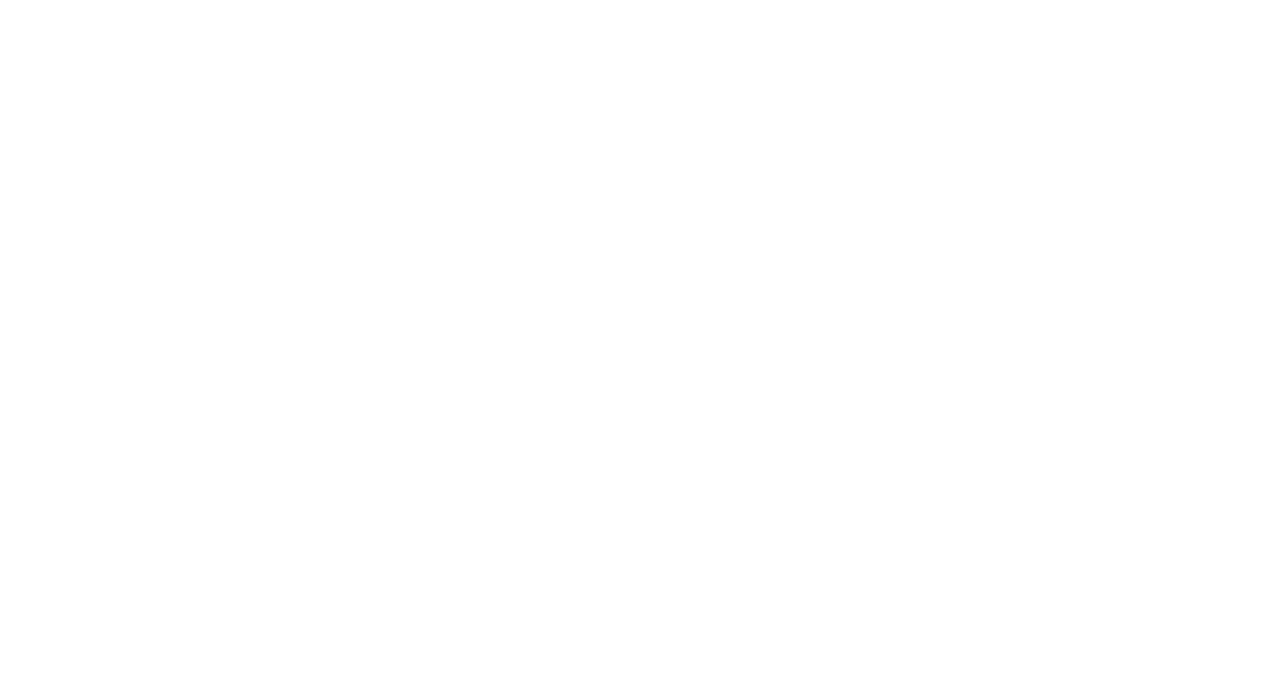Por Beatriz Calais e Maria Laura Saraiva
20 anos atrás, mais precisamente em janeiro de 2003, era sancionada a Lei nº 10.639, que se tornaria um marco na história da educação brasileira. Ao tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana na grade curricular, bem como incorporar o Dia da Consciência Negra ao calendário infantil, a legislação semeou as bases de uma educação antirracista que, hoje, apesar de grandes avanços, ainda enfrenta entraves em sua implementação.
Segundo dados da Pnad Contínua da Educação 2020 — capítulo da pesquisa que acompanha a evolução dos indicadores educacionais no País —, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no Brasil, 20,2% não completaram alguma etapa da educação básica — algumas por terem abandonado a escola, outras por nunca a terem frequentado. Desse total, que representa 10,1 milhões de brasileiros, 71,7% eram pretas ou pardas. Os principais motivos para a evasão escolar, por exemplo, envolvem a necessidade de trabalhar e a falta de interesse pelos assuntos abordados na escola.
Mesmo com a vigência da lei, esses indicadores demonstram o tamanho do desafio de construir um currículo verdadeiramente significativo, empático e acolhedor para todos em nível nacional. São também incontornáveis os esforços de formação de professores rumo a uma educação antirracista, que contemple a diversidade étnico-cultural de estudantes das cinco regiões brasileiras.
Publicado originalmente na Revista Veras, o artigo “Três braços de rio: formação antirracista em escolas públicas de São Miguel Paulista”, escrito pelas professoras e pedagogas Erika Brasil Figueiredo e Joseli Magalhães Perezine, junto com o sociólogo Leonardo Alves da Cunha Carvalho, traz um bom exemplo de como isso tem acontecido na prática.
Ao mostrar iniciativas de enfrentamento do racismo promovidas por instituições de ensino na zona leste de São Paulo — mais especificamente, em São Miguel Paulista —, o texto convida o leitor para conhecer de perto os caminhos de uma pedagogia antirracista, trajetória que, segundo os autores, encontra barreiras de várias ordens, como a redução de verbas, o avanço de pautas conservadoras, os impactos da covid-19 e outros desafios típicos do ambiente escolar.
Percalços à parte, a mobilização de professores e a promoção de políticas públicas educativas têm se mostrado eficazes no avanço dessa construção curricular. Entre as ações, destaque para o projeto formativo de professores que percorre o contexto do assassinato do afro-americano George Floyd, além de uma oficina sobre a educação antirracista numa perspectiva indígena.
A partir dos estudos de caso, os autores se debruçam sobre os pilares que ajudam a entender como a educação antirracista deve funcionar. É preciso oferecer acesso, qualidade e estrutura de permanência.
Por onde começa uma educação antirracista?
“Primeiro, há de se tomar cuidado para não cair no senso comum e reprodutor de pensamentos e práticas que em nada contribuem para o aprimoramento dessa formação antirracista”, explica a professora Joseli Magalhães, uma das autoras do artigo. “Buscar referências genuinamente ligadas a movimentos negros é um bom ponto de partida, mas não é o suficiente, pois lidamos com crianças, adolescentes, mães, pais e demais responsáveis que sofrem o racismo diariamente, e a escola também é um espaço de reprodução dessa prática.”
Um dos grandes desafios é a dificuldade que muitos têm em reconhecer o caráter excludente da sociedade brasileira — exclusão da qual uma parcela dessas pessoas é, inclusive, vítima. “O racismo é tão forte que muitos pais pretos com filhos pretos não se veem como tal e negam sua origem. No ato da matrícula, os responsáveis preenchem uma ficha padrão da Secretaria Municipal de Educação em que se pede para indicar a cor/raça. Percebemos que muitos respondem a esse item com a cor branca. O mesmo se passa com o corpo docente, que nem sempre se identifica como negro nem percebe que sofre racismo dentro da escola”, revela Joseli.

Na discussão sobre a formação antirracista nas escolas públicas de São Miguel Paulista, a professora destaca a importância, para os próprios professores, do debate em torno do racismo estrutural, conceito que ficou conhecido em livro do filósofo e atual ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. A partir da leitura da obra, uma “revolução” aconteceu no grupo de professores, dizem os autores. Muitos descobriram aspectos completamente novos em sua própria condição, enquanto outros desenvolveram um olhar mais acolhedor em relação aos alunos.
Para a especialista, esse tem sido um dos impactos mais marcantes do processo de ensino antirracista. “Isso mudou o olhar deles para si próprios e para a comunidade em que atuam e vivem”, completa. Com os alunos, o resultado é parecido. A partir da percepção de si mesmo, é possível desenvolver suas individualidades de forma plena, acolhimento que se revela essencial para prevenir a evasão escolar.
Do olhar para si, um olhar para o mundo
Para os pesquisadores, o papel dos professores na condução das práticas educacionais antirracistas é central. No caso de São Miguel Paulista, são visíveis os esforços necessários para que, antes de desenvolver o tema em sala de aula, a questão seja motivo de estudos e reflexões por parte dos docentes. É papel deles levar às crianças e adolescentes uma abordagem que não simplifique a temática racista — sem que, para isso, a temática se torne demasiadamente complicada, incompreensível.
A conclusão frustrante é que, nas últimas duas décadas, foram poucas as ações que promoveram mudanças estruturais no interior das escolas. “Nesse ponto, é interessante tomarmos consciência de que uma lei não consegue, sozinha, transformar uma sociedade. Cabe aos gestores, professores e comunidade provocarem ações que gerem projetos, mobilizando a escola como um todo”, opina Joseli.
“Um dos avanços é a manutenção de projetos que têm deixado de ser apenas uma apresentação de trabalhos num momento pontual do ano letivo para se transformar numa pedagogia antirracista permanente, do primeiro ao último dia de aula.” É essa atenção redobrada, com esforço contínuo, que visa semear — pouco a pouco — a mudança de mentalidade dos alunos, familiares e docentes.
“Outro ponto importante é a valorização da cor preta e do cabelo crespo no interior da escola. Isso tem total relação com o posicionamento dos professores em situações corriqueiras de sala de aula, que desvelam o racismo relutante nas conversas e ‘brincadeiras’ dos alunos.”
Desde 2018 à frente da formação antirracista nas escolas da zona leste de São Paulo, Joseli vê avanços. “Ainda que o desmonte educacional provoque abalos de diversas ordens, como a redução de verbas que atinge vários programas no âmbito federal, estadual e municipal, continuaremos a abrir caminhos para desconstruir o currículo eurocêntrico, propondo a leitura, análise e interpretação de nossas origens”, finaliza.