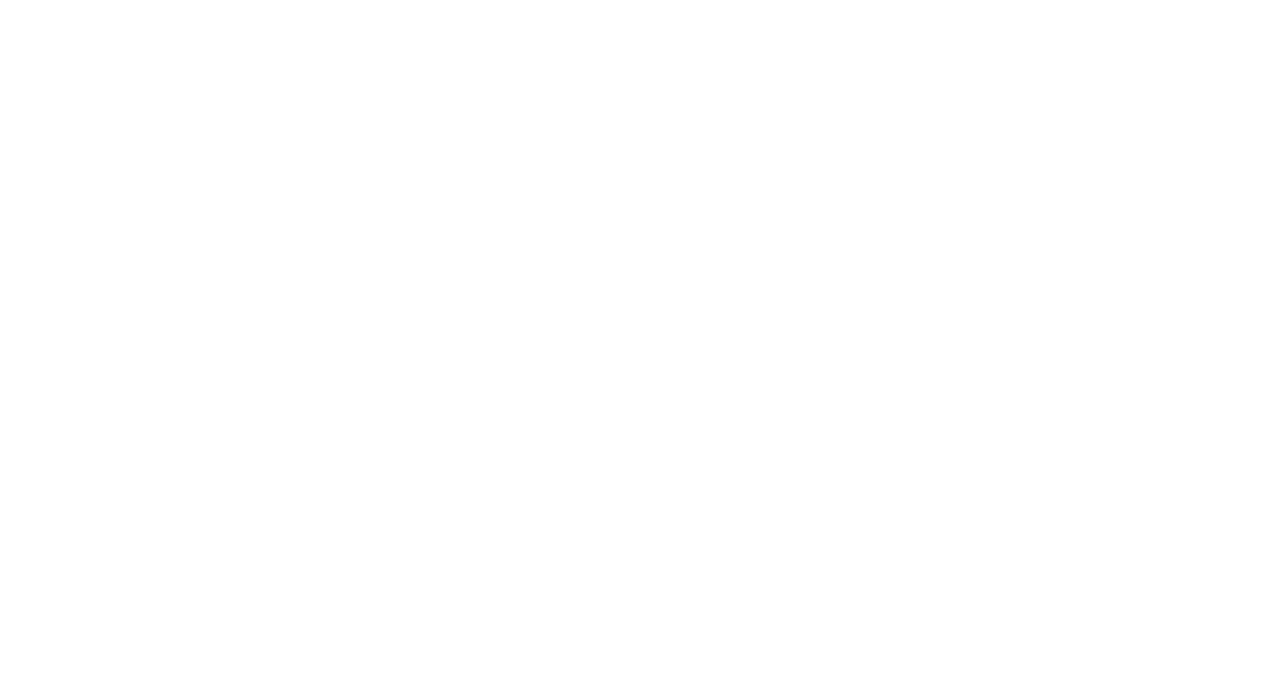Rodrigo Ratier


A íntegra da conversa está disponível como podcast. Acesse!
Currículo é poder. Quando determinamos uma lista de conteúdos e de metodologias de ensino, estamos realizando uma escolha. E escolher significa optar por determinadas coisas – e deixar outras de fora. Por vários séculos, o currículo escolar tem colocado o modo de conhecimento clássico europeu, nascido do iluminismo, como o padrão ouro do ensino. Há muita relevância no conhecimento acumulado nessa parte do mundo. O problema é encará-lo como o único saber legítimo. Quando fazemos isso – e temos feito muito até aqui –, desconsideramos a enorme diversidade, criatividade e inteligência que pulsa em tantas outras coletividades humanas.
É preciso descolonizar o currículo. Quando diz isso, o professor Luiz Rufino aponta para a necessidade de valorizar os saberes do Sul Global – em que nosso país, o Brasil, está inserido. Também chama a atenção para um componente fundamental: o racismo, que é a base do colonialismo, continua vivo no currículo escolar – e precisa ser enfrentado.
Luiz Rufino é pedagogo, doutor em Educação e professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, uma unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Tão importantes ou mais importantes que suas credenciais acadêmicas são seus passeios pela vida: ele é aprendiz de capoeira e curimba, as práticas musicais dentro dos rituais umbandistas, e busca nas rodas e nas ruas inspiração para seu conhecimento. Luiz se dedica a pesquisa sobre temas como culturas brasileiras, educação, religiosidades e colonialismo. Tem dezenas de artigos e livros publicados. O mais recente é Vence-demanda: educação e descolonização. O mais conhecido é Pedagogia das Encruzilhadas, de 2019. Nosso papo gira em torno desse livro, mas também incorpora outras aventuras do Rufino.
ZUM ZUM Você afirma que o colonialismo se assenta sobretudo no racismo. Você pode detalhar essa relação?
Luiz Rufino Tenho partido do entendimento compartilhado com muitas autoras e autores de que raça e racismo são estruturantes da modernidade. Então, o colonialismo nada mais é do que um empreendimento político, uma intervenção militar, uma proposta de ação de um determinado setor, de um determinado contexto, de uma determinada metrópole – que de certa forma busca subordinar um outro. Nesse sentido, raça e racismo aparecem como elementos estruturantes da modernidade – não só da modernidade como de todo o processo colonial – ou disso que tem se chamado a partir da interlocução com autoras e autores latino-americanos de “colonialidade”. O projeto-mundo moderno é um projeto que tem a racialização como elemento político de produção de desigualdade e de subalternização.
De que forma o currículo escolar reproduz a lógica colonial?
Todas as nossas criações estão atravessadas pelo acontecimento colonial. Os chamados “descobrimentos”, as chamadas “conquistas”, na verdade, são grandes episódios de tensão, de violência e de produção de trauma constante até os dias de hoje. Na escola como a gente a conhece, não seria diferente: o currículo reflete muito dessa lógica de colonizador e de colonizado, e de naturalização dessas violências. A lógica colonial também é uma lógica escolarizante. Mas o currículo é uma agenda em disputa, ele não está fechado. Ele é possível de ser transgredido e reinventado.
O que seria um currículo descolonial? Por que você fala em “descolonialismo” e não em “decolonialismo”?
Tenho preferido usar a categoria descolonização, mas entendo que descolonização, decolonialidade ou contra-colonialismo são todas noções que estão vinculadas a determinadas agendas críticas que marcam um profundo e radical enfrentamento à lógica da dominação colonial. Tenho preferido descolonização por afinidade de diálogo com determinados autores e por entender que a colonização não é um evento encerrado, mas que se constituiu em um plano profundo, complexo, extremamente sofisticado e atualizado.
Penso que um currículo vinculado a um projeto descolonizador é um currículo que primeiramente reconheça a violência como um paradigma estrutural-estruturante do mundo em que a gente está vivendo, e que a violência não é distribuída de maneira regular. Pelo contrário: a violência é um regime político de produção de privilégio para uns em detrimento da destruição, do desvio e da humilhação de tantos outros. Para pensar um currículo descolonial, a meu ver a gente precisa voltar realmente a entender que raça e racismo são elementos que forjam uma contratualidade do mundo moderno, que gênero e sexismo também são elementos estruturantes e contratuais desse mundo. Também é fundamental que a gente questione a lógica antropocêntrica, que contrariemos a dicotomia entre humano e natureza. Os que aqui estavam [povos originários] compreendem a existência de uma forma muito mais ampla e muito mais ecológica.
Na definição do dicionário, pedagogia diz respeito ao estudo das práticas, métodos e princípios da educação. De que forma as encruzilhadas educam?
A encruzilhada nos coloca diante da necessidade de pensar a relação, de pensar o contato, de pensar o trânsito, de pensar um mundo que não está acabado. A encruzilhada é um signo político das tradições negro-africanas que fala de um mundo que se opõe à lógica cartesiana, à lógica totalitarista e até mesmo a uma lógica monoracional, que acredita que só há uma única possibilidade de se estar no mundo e de pensar sobre ele. A encruzilhada é a oferta de caminhos de experiências educadoras, que eu gosto de chamar um projeto político, poético e ético para pensarmos possibilidades de reflexão profunda sobre a educação a partir de outros princípios explicativos de mundo.
A imagem da encruzilhada remete à dúvida entre os caminhos a seguir. Qual o papel da dúvida nessa pedagogia?
A dúvida é constitutiva da nossa existência – e eu diria de uma existência saudável. Ao longo dos últimos séculos, talvez tenhamos perdido a intimidade com a dúvida e com o que a dúvida nos traz de possibilidades, de curiosidade, de capacidade de experimentação. Ela reivindica um lugar que está muito vinculado com o diálogo, e o diálogo está implicado em uma ética responsiva e responsável, em que estamos “condenados” a lidar com a vida como um jogo de pergunta e resposta. É um jogo de pergunta e resposta que não mira nós mesmos, mas o outro. Por isso, nos cabe uma atitude profundamente responsável. Nesse sentido, tendo a pensar que a dúvida traz uma dimensão poética sobre a vida, que confronta um certo desencantamento, aprofundado pelo excesso de racionalidade moderno-ocidental que se pretende como único modelo de responder às coisas. Se a gente pensar na atividade das educadoras e dos educadores, a própria experiência com a criança é uma experiência de curiosidade, de alumbramento, de criatividade, de encantamento com o olhar do outro, de disponibilidade para o desconhecido. Se perdermos isso, perdemos grande força da nossa principal característica humana, que é não estarmos fechados, não estarmos dados.
Em que sentido a virada das formas de conhecimento precisa ser uma virada étnico-racial?
Estamos em um mundo sustentado por um contrato de dominação que tem a raça e o racismo como elemento-chave, que também vai influenciar drasticamente a política do conhecimento. Ou seja, qual o conhecimento que está sendo apresentado como legítimo, como possível, como o ideal – e principalmente como aquele que é superior a tantas outras formas de produção de saber. Nesse sentido, a gente precisa entender que há uma esfera do racismo que está no campo do saber, produzindo muita injustiça social e subalternização. A gente precisa dar garantia a um debate que coloque como pauta o problema de um racismo epistêmico.
Qual é o lugar do discurso acadêmico em uma pedagogia pós-colonial?
Ele deve mirar uma pedagogia que tenha como foco a descolonização – entendendo que a descolonização não é uma espécie de “dormirmos colonizados, acordarmos descolonizados”. Como diria [o psiquiatra e filósofo Frantz] Fanon, se o processo colonial é a instituição de um trauma, também a descolonização é um processo de reconhecimento da condição do colonizado, e principalmente de tratamento e de cuidado, de libertação e do enfrentamento das formas de violência.
O discurso acadêmico deve mirar esses princípios, que são princípios de justiça. É responsabilidade da universidade, da ciência, daqueles e daquelas que estão empenhados num debate público acerca da produção e do debate de conhecimento sobre a educação. O mundo é diverso e amplo, então a meu ver a universidade precisa assumir uma agenda de ações descolonizadoras não meramente como uma retórica conceitual, mas como uma prática cotidiana. Isso se faz reconhecendo as desigualdades e o seu caráter de responsabilidade [da universidade] frente à necessidade de um mundo mais horizontal, mais fraterno, mais justo e mais combativo com toda e qualquer forma de produção de violência.