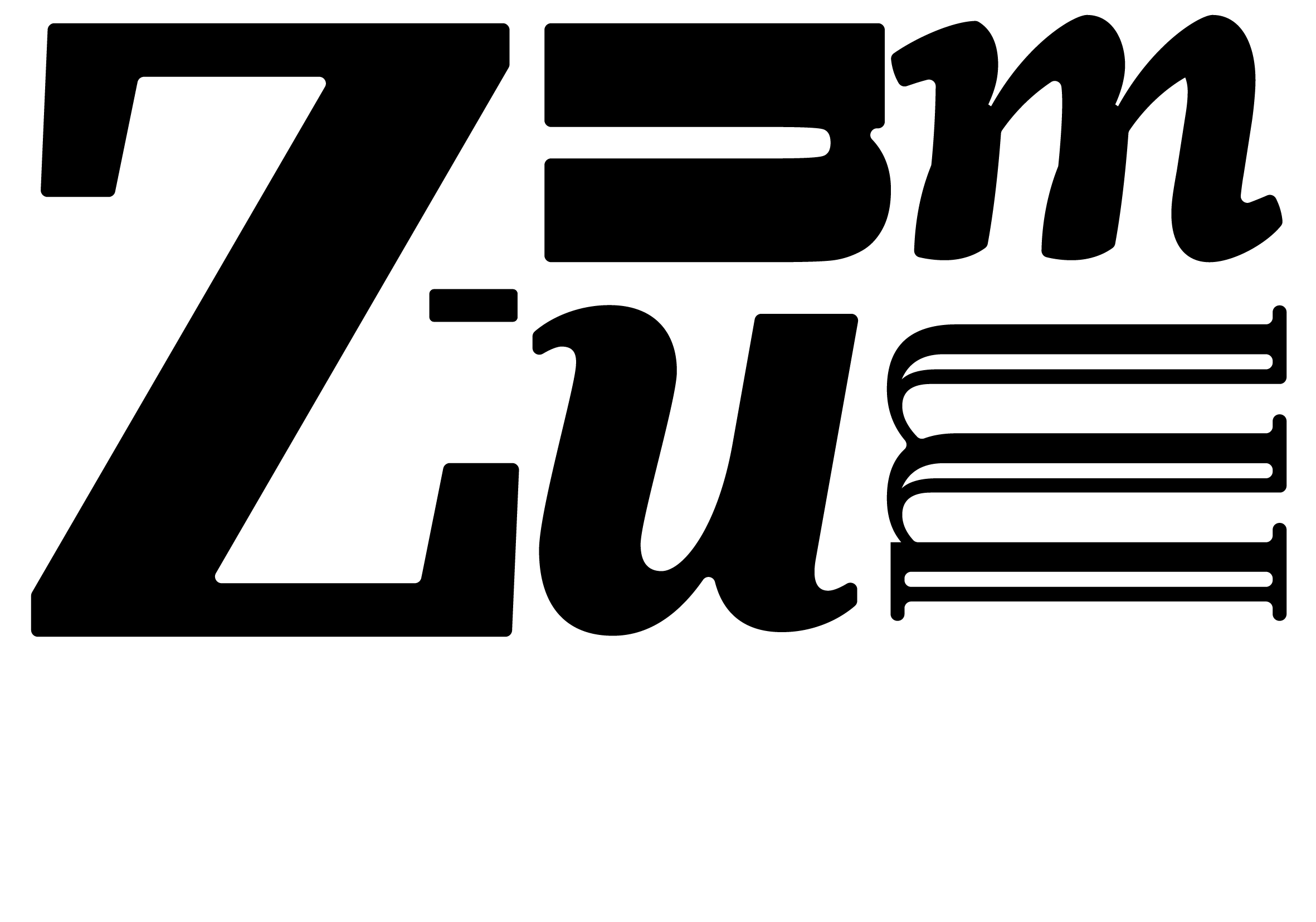O Carnaval, as festas populares e o dia da Consciência Negra são momentos importantes para a educação antirracista, mas o currículo decolonial não deve se restringir a essas datas
Reportagem: Wellington Soares
Para as turmas do 9º ano e Ensino Médio do Vera, o Carnaval chegou um pouco mais tarde. Em junho, durante as festas juninas, os estudantes apresentaram parte do trabalho que realizaram ao longo do primeiro semestre, quando um estudo aprofundado dos blocos afro Ilê Aiyê e Ilú Obá De Min integrou aprendizagens de Música, Dança, Arte, Educação Física, além das oficinas de prototipagem e o fotoclube (leia aqui a reportagem completa sobre o projeto).
Outras turmas também apresentaram seus aprendizados do semestre durante as festas juninas. Mais do que um momento para ensaiar danças típicas e celebrar, no Vera, essas festas marcam mais uma oportunidade de envolver a comunidade no projeto de educação antirracista e compartilhar como a abordagem de educação para as relações étnico-raciais enxerga as festas populares e as manifestações culturais brasileiras.
É de praxe que as escolas brasileiras promovam festas em fevereiro e em junho. Também já é comum que esses espaços sirvam como mote para tratar da influência afro-brasileira na formação cultural do Brasil. O samba, o maracatu, o jongo, as congadas, o bumba meu boi e outras são resultado da maneira como comunidades afro-brasileiras e indígenas construíram suas vidas no território brasileiro. Tratar dessas manifestações, por si só, não é um problema. Mas são poucas as instituições que, como o Vera, as têm como uma das abordagens possíveis de um currículo voltado para a educação para as relações étnico-raciais.
“Os aspectos culturais são importantes, mas fazem parte de um projeto de educação multicultural crítica e para as relações étnico-raciais. Esse projeto acontece de maneira consistente e faz a escola repensar todas as suas práticas. Ou seja, as discussões acontecem não apenas em efemérides ou tratando a cultura afro-brasileira como algo circunstancial e exótico”, afirma Regina Scarpa, diretora pedagógica da Escola e do Instituto Vera Cruz.
A pesquisa “Lei 10.639/03: a atuação das Secretarias Municipais de Educação no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira”, divulgada em 2023, trouxe dois dados interessantes sobre como as escolas brasileiras abordam a educação para as relações étnico-raciais. Por um lado, a diversidade de culturas quilombolas, afro-brasileiras e africanas foi o tópico mais citado como importante a ser trabalhado pelas escolas: 60% das redes o mencionaram na pesquisa. Por outro, a realização de trabalhos de educação para as relações étnico-raciais ainda está pouco conectado com o dia a dia: 69% das redes de ensino afirmam que a maioria ou boa parte das escolas realiza atividades apenas durante o mês ou semana do Dia da Consciência Negra.
Para atender de fato ao que é determinado pela Lei 10.639/03 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais que regulamentam a sua implementação, é preciso fazer muito mais do que apenas trazer as discussões em datas celebrativas ou nas temporadas de festas tradicionais. As próprias diretrizes, assim como diversos documentos elaborados por especialistas ao longo das duas últimas décadas, afirmam que é fundamental que haja um projeto transversal de educação para as relações étnico-raciais. Parte fundamental desse projeto passa por pensar sobre o que se ensina, como se ensina e até em que momento certos tópicos são abordados. Em resumo, é fundamental que as escolas e redes de ensino repensem seus currículos.
O que é um currículo antirracista
A definição de currículo é um dos pontos mais discutidos por pesquisadores da educação e as suas definições variam. De forma resumida, o currículo diz respeito àquilo que os alunos aprendem dentro das instituições escolares.
Num sentido restrito, o currículo pode ser visto como uma lista que define os conteúdos, as habilidades e os objetivos de aprendizagem dos alunos. Ele se revela, por exemplo, em documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e também nos materiais utilizados em sala de aula – ao ler os capítulos de um livro didático, por exemplo, vemos ali uma concretização do currículo.
O processo pelo qual se define um currículo, entretanto, é complexo e, como definem os especialistas, também é baseado em uma série de escolhas feitas em diferentes níveis: pelo poder público, pelas redes de ensino, pela gestão das escolas, pelas famílias, pelos professores e também pelos alunos.
“Eu penso o currículo antes de tudo como uma invenção. Eu penso que o currículo é construído histórica e politicamente, a partir de um certo contexto. Ao falarmos de currículo, estamos falando, antes de tudo, de relações de poder e de um exercício de imaginação de um mundo. Isso tem muita relação com o debate sobre racialidade, educação e relações étnico-raciais”, afirma Daniel Souza, filósofo, no podcast Zum-Zum no Vera.
No Brasil, em que as relações de poder foram historicamente moldadas a partir da colonização portuguesa, a formação do currículo também esteve profundamente ligada com essa colonialidade e com o racismo.
“A colonialidade é resultado de uma imposição do poder e da dominação colonial que consegue atingir as estruturas subjetivas de um povo, penetrando na sua concepção de sujeito e se estendendo para a sociedade de tal maneira que, mesmo após o término do domínio colonial, as suas amarras persistem. Nesse processo, existem alguns espaços e instituições sociais nos quais ela opera com maior contundência. As escolas da educação básica e o campo da produção científica são alguns deles. Nestes, a colonialidade opera, entre outros mecanismos, por meio dos currículos,” afirma Nilma Lino Gomes em artigo.
No artigo “O movimento negro e a intelectualidade negra descolonizando os currículos”, Nilma Lino Gomes destrincha as diferentes maneiras como o colonialismo está presente no currículo. A principal delas é a forma como os currículos privilegiaram, desde sempre, as perspectivas europeias, brancas e quase sempre masculinas, em todas as áreas de conhecimento. O estudo da história foca nos acontecimentos da Europa, as leituras se dedicam a autores europeus ou brancos, as definições de Ciência e Conhecimento privilegiadas são as elaboradas por pensadores europeus. Mesmo ao tratar da história indígena, africana e afro-brasileira, pensadores desses grupos são deixados de lado: estuda-se o que pensadores brancos escreveram sobre eles, em vez do conhecimento elaborado por eles.
Quando as ações de educação étnico-racial focam apenas em efemérides ou acontecem esporadicamente – como ainda é realidade na maior parte do Brasil –, esses aspectos da colonialidade se mantêm.
O pensamento sobre o currículo é um dos pilares do projeto de educação antirracista do Vera. As reportagens que você lê aqui, desde a primeira edição da Zum-Zum, mostram como ele se concretiza: em todos os segmentos e áreas do conhecimento, os projetos se dedicam a pensar em como incorporar visões de mundo diversas – e não apenas a eurocêntrica – nos processos de ensino e aprendizagem.
“Isso envolve ações de planejamento pedagógico, revisão de bibliografia informativa e literária, materiais didáticos e formação dos profissionais com foco na apropriação e incorporação das questões raciais (racismo, branquitude, referências afro-brasileiras e indígenas, dentre outras) no currículo, de forma transversal, em todos os níveis”, afirma o projeto de educação antirracista do Vera.
Essa abordagem está alinhada com o que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. De acordo com o documento, o currículo deve privilegiar uma perspectiva multicultural, que permita que os estudantes entrem em contato com múltiplas visões de mundo, culturas e formas de conhecimento:
“É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia.”
Questões socialmente vivas
Além da seleção de conteúdos e autores que são abordados em sala de aula, o currículo também se manifesta na forma de ensinar. Em seu artigo, Nilma Lino Gomes afirma que a postura colonial também está presente quando a abordagem dos professores não abre espaço para um ensino questionador.
“Um currículo que não indaga, não dá espaço para o diverso, para experiências pedagógicas conjuntas, para o lugar de fala dos estudantes, para a discussão sobre a importância de se conhecer o que foi produzido pela ciência moderna, entendendo-a como uma das, e não como a única e verdadeira forma de conhecer,” diz Gomes.
No Vera, mesmo antes da implementação do projeto de educação antirracista, as práticas pedagógicas já focavam no protagonismo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Por isso, professores, coordenadores e orientadores já dedicavam boa parte de seu tempo para refletir sobre como reforçar essa abordagem.
O foco na educação antirracista aprofundou essas discussões. Desde o início do projeto, houve um esforço para incentivar ações afirmativas, em aumentar a diversidade entre os educadores do Vera, promover parcerias com organizações e intelectuais de referência dos movimentos negros e indígenas e em mobilizar toda a comunidade de estudantes, famílias, educadores e funcionários para pensar o projeto da escola – entre tantas outras ações. Esse movimento fez com que novas perspectivas e novos repertórios fossem incorporados ao dia a dia da escola, sobretudo nos momentos de formação dos professores.
No primeiro semestre de 2025, as reflexões e formações do grupo de educadores de Ciências Humanas do Ensino Fundamental foram consolidadas em um documento que descreve as concepções que embasam o trabalho na área. Para isso, definiram como um dos eixos articuladores do trabalho as questões socialmente vivas.
O conceito de questões socialmente vivas foi cunhado pelos franceses Alain Legardez e Laurence Simonneaux e se refere a indagações que suscitam debates na sociedade, entre os especialistas da ciência de referência para essa questão e também na escola, ao questionar os conteúdos e propostas tradicionalmente presentes nos currículos.
Na reflexão promovida pelos educadores do Vera, essa abordagem se articula profundamente com a visão de decolonização do currículo, uma vez que um currículo decolonial demanda que as visões hegemônicas e prioritariamente europeias sejam questionadas.
“Transformar o currículo da escola criando condições para a formação de sujeitos com visões de mundo que questionem e superem a lógica de funcionamento e a reprodução de valores coloniais é parte necessária de um currículo articulado a partir de questões socialmente vivas”, afirma o documento elaborado pelos educadores de Ciências Humanas do Vera.
Na prática, isso significa que a aprendizagem dos estudantes se dá em torno de questões complexas, que são alvo de discussões em diferentes âmbitos também fora da escola e, para poder refletir sobre elas, precisam recorrer a diferentes fontes em busca de diferentes perspectivas sobre um fato e lançar indagações sobre essas fontes utilizadas.
Esse movimento exige que os estudantes – e os educadores – questionem as fontes tradicionais, em geral brancas e/ou europeias, e as comparem com a produção de outros territórios, por indivíduos com repertórios diferentes, e com conhecimentos produzidos de maneiras alternativas à visão científica acadêmica. Artigos, dados e estatísticas convivem, em sala de aula, com relatos orais, músicas, produções artísticas, comida e outros documentos que são analisados lado a lado com fontes tradicionais.
A cultura no currículo
Um currículo de educação para as relações étnico-raciais precisa apresentar autores africanos, afro-brasileiros e indígenas. Precisa também destacar a contribuição desses grupos na formação da sociedade brasileira, assim como suas formas de resistência ao colonialismo e ao racismo. E, segundo a lei 10.639/03, precisa também discutir a cultura afro-brasileira.
“O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras”, afirmam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as Relações Étnico-Raciais.
Ainda que a lei não explicitasse a necessidade de abordar a cultura, seria impossível discutir a história dos povos africanos e indígenas e de seus descendentes sem tocar nesse tema. As festas populares, os ritmos musicais, as danças e a capoeira não são as únicas contribuições desses grupos, mas revelam aspectos importantes sobre suas trajetórias aqui no Brasil.
Um trabalho transversal de educação para as relações raciais deve destacar as contribuições políticas, históricas, científicas e intelectuais dos movimentos negros e indígenas. Mas, com frequência, essas contribuições se cruzam com a produção cultural desses movimentos, sobretudo na demonstração de como esses grupos resistiram ao colonialismo e ao racismo.
Por si só, manter tradições e celebrações vivas já é um movimento de resistência que merece ser estudado: há diversos relatos sobre tentativas de criminalização da capoeira e do Carnaval, por exemplo. Mas, para além disso, a resistência também pauta essas manifestações. As canções de Gilberto Gil e de Clementina de Jesus, as letras de rap, e os cortejos do Ilê Ayiê e do Ilú Obá De Min denunciam e discutem as relações raciais e a história do Brasil (clique nos links para ler reportagens sobre esses temas nesta edição da Zum-Zum).
Há conteúdo mais do que suficiente para que as perspectivas africanas, afro-brasileiras, indígenas e de outros grupos étnicos presentes no Brasil e no mundo estejam na sala de aula ao longo de todo o ano, e em todas as áreas de conhecimento. Nessa perspectiva, as tradições populares e as festas se tornam mais um entre tantos objetos de estudo que são ponto de partida para um ensino que expande horizontes, valoriza as diferenças e forma estudantes críticos à realidade em que vivemos.
Para saber mais
Artigo | O movimento negro e a intelectualidade negra descolonizando os currículos, de Nilma Lino Gomes. Presente no livro Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico”, organizado por Joaze Bernardino-Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramón Grosfoguel.
Pesquisa | Lei 10.639/03: a atuação das Secretarias Municipais de Educação no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, realizada por Geledés – Instituto da Mulher Negra e Instituto Alana. Documento | Projeto de Educação Antirracista da Escola e do Instituto Vera Cruz