Por Mariana Gonzalez
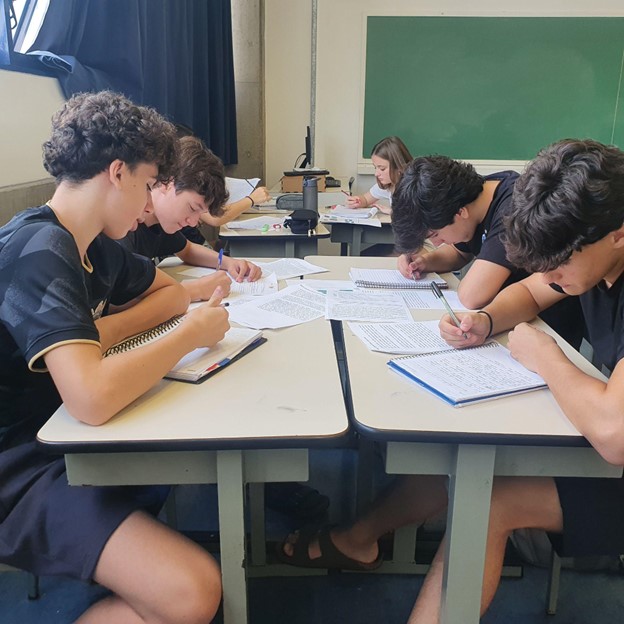
No final da década de 1960, um grupo de pesquisadores norte-americanos e brasileiros coletou 12 mil amostras de sangue em território Yanomami. O material seria utilizado por décadas após a coleta, em uma série de diferentes estudos científicos. No início dos anos 2000, mais de quatro décadas depois, ganharam força críticas a essa coleta, destacando como os pesquisadores não foram transparentes ao coletar o sangue, tratando os Yanomami como meros objetos de estudo.
O caso do sangue yanomami, como ficou conhecido, é um dos que chamou atenção das turmas de 1ª série do Ensino Médio durante um trabalho que discutiu o racismo nas Ciências implementado pela professora Joana Góes, de Biologia.
A ideia de trazer essa discussão surgiu quando Joana ouvia o podcast Ciência suja, que apresenta casos de fraudes ou problemas éticos envolvendo pesquisas científicas. O podcast serviu para uma discussão aprofundada sobre como o racismo e o colonialismo também impactam a produção científica. O projeto “Contra o colonialismo na Ciência: um manifesto necessário”, que a professora colocou em prática pela primeira vez em 2024, mostra que as desigualdades também atravessaram (e ainda atravessam) a ciência.
“Nós temos um espaço de formação continuada com os profissionais em que a luta antirracista e novas práticas escolares são temas permanentes. Então, eu já vinha me questionando como poderia trazer esse tema para o meu curso”, conta a professora.
O projeto saiu do papel e foi colocado em prática ao longo do segundo trimestre. Primeiro, professora e alunos ouviram juntos o episódio “Ética: só para brancos” em sala de aula. “Deixei o podcast tocando e fui preenchendo a lousa com informações importantes, detalhes que seriam discutidos na sequência. Assim, eles ficaram curiosos e foram anotando também o que chamou atenção deles”, lembra. Nas palavras de Joana, o assunto “é um convite para se questionar quem faz ciência, quem financia a ciência, quais são os interesses por trás de uma pesquisa”. Afinal, a ciência não é neutra, ela é feita por pessoas, e, portanto, reproduz vieses humanos, como vieses de gênero e raça.
Ao longo de 56 minutos, o episódio apresenta diversos casos que exemplificam o impacto do racismo e do colonialismo na ciência ao longo da história humana. Além do caso Yanomami, os estudantes também discutiram exemplos trazidos por outros episódio do podcast, como o roubo de materiais arqueológicos e objetos culturais de países colonizados por países colonizadores, especialmente o fóssil Ubirajara jubatus, levado do Cariri para a Alemanha nos anos 1990 e que retornou ao país em 2023.
Eles também se mostraram interessados e surpresos por casos como o de Henrietta Lacks, uma mulher negra norte-americana que, em meados de 1951, teve suas células cancerígenas coletadas e estudadas sem o seu consentimento. Ainda, discutiram um caso bem atual: como a inteligência artificial, quando usada como ferramenta de segurança pública, é permeada por racismo e acaba por reforçar a criminalização de pessoas negras.
Depois de ouvir e discutir o assunto em sala de aula, as turmas se dividiram em grupos e escolheram outros episódios do podcast, que também tratam de desigualdades na ciência, para se aprofundar. Um grupo escolheu falar sobre o acesso de pessoas negras aos estudos científicos, enquanto outros se decidiram por estudar o roubo dos fósseis ou inteligência artificial, por exemplo. Ao final, eles produziram um videomanifesto, em que liam um texto escrito por eles, a partir desses estudos, e apresentavam o que mais fosse interessante sobre o tema que escolheram (veja as produções ao final do texto).

Um dos grupos, formado pelas alunas Gabriela K., Larissa e Valentina, apresentou o manifesto em uma praça pública e ouviu das pessoas como aquilo as tocou; outro grupo, das alunas Helena, Julia L., Luisa e Stella, usou a mesma técnica, mas com seus familiares, que demonstraram surpresa com algumas informações apresentadas no manifesto.
O grupo das alunas Julia V., Nina, Gabriela N. e Carolina escolheu estudar a presença (ou ausência) de pessoas negras nos estudos científicos, a partir do episódio “De portas fechadas”.
No videomanifesto, entrevistaram a professora de Física do Vera, Jaqueline Mendes de Almeida, que é negra. “Eu não estudei em uma escola como esta. Quando eu estava na faculdade e via que as pessoas que estudaram em escolas particulares tinham um desempenho melhor, eu entendi que era natural que meu desempenho não fosse o mesmo. Mas hoje eu consigo ser exemplo para outras pessoas negras que chegam na faculdade e pensam: ‘Posso ser como a Jaque’”. Ela completa: “Tem que ter uma ação concreta para incluir mais pessoas negras na ciência. Pessoas que vêm de espaços diferentes terão práticas diferentes, e essa mistura vai construir algo novo”.
A escolha pela entrega do trabalho em forma de um videomanifesto, explica a professora, fez com que os alunos explorassem uma outra linguagem: “Um manifesto precisa sensibilizar e mobilizar as pessoas de alguma forma. É uma linguagem de impacto”.
Além de contribuir com a formação científica em uma perspectiva antirracista, o projeto disparou outras discussões mais amplas, como as diferenças entre conhecimento científico e opinião, a importância dos conhecimentos tradicionais e as relações de poder na ciência.
Em 2025, o plano é expandir o projeto ”Contra o colonialismo na Ciência: um manifesto necessário” também para as disciplinas de Física e Química; a ideia é que os professores das três disciplinas trabalhem o racismo científico em suas áreas.
Veja alguns dos videomanifestos produzidos pelos alunos
Para saber mais
Podcast Ciência suja, disponível online. A turma discutiu os episódios “Ética: só para brancos”, “Portas fechadas”, “Pele negra, máquinas brancas”, “Achados, roubados e apagados” e “A ciência é para todos”.
Livro Algoritmos de destruição em massa, de Cathy O’Neil. Editora Rua do Sabão. 344 p. R$64
Artigo “O caso do sangue yanomami”, de Debora Diniz. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/48/51
